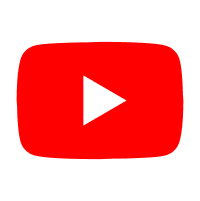Hawke, colaborador de longa data de Linklater, oferece aqui uma das atuações mais devastadoras de sua carreira. Ele conduz o filme com um desempenho simultaneamente exuberante e contido. No início, Hart parece expansivo, espirituoso, ainda dono de certo brilho; mas, aos poucos, o filme lhe retira as máscaras, revelando a exaustão e a tristeza que o corroem.
Seu corpo parece encolher à medida que a noite avança; sua fala, antes vibrante, se quebra em hesitação diante das verdades que emergem. Lorenz Hart é um homem que se esconde atrás da ironia e da inteligência — um artista que já foi brilhante, mas agora vive à sombra de sua própria glória. O riso cede à melancolia, o encanto ao desamparo, a genialidade ao patético.
A mise-en-scène de Blue Moon é rigorosamente teatral. Praticamente todo o filme se passa dentro do mesmo bar, com poucos personagens e longos diálogos e monólogos. Essa escolha concentra o olhar sobre o ator, transformando cada pausa, cada olhar e cada silêncio em fragmentos de uma alma à deriva.
A câmera de Linklater observa Hart com uma piedade contida, permitindo que o público sinta o peso do tempo — e da derrota — em cada gesto. A fotografia evoca uma Nova York nostálgica, enquanto os enquadramentos frequentemente isolam Hart no quadro, diminuindo-o visualmente. É um trabalho minucioso de câmera e figurino, que faz de Ethan Hawke um homem fisicamente menor, ecoando a fragilidade do verdadeiro Lorenz Hart — baixo, franzino, tragicamente vulnerável.
O tom do filme oscila com precisão entre o humor e a melancolia. Há ironia em ver um homem que escreveu letras sobre amor e esperança incapaz de amar a si mesmo ou de acreditar em qualquer futuro. Mas há também ternura no modo como Linklater o enxerga: não apenas com piedade — que o próprio Hart rejeita —, mas com a compreensão de quem reconhece a beleza trágica de um artista confrontando a própria ruína. O resultado é um retrato íntimo e desarmado do fim de uma era. No fundo, Blue Moon fala sobre a inevitabilidade da passagem do tempo — o mesmo tema que percorre toda a filmografia de Linklater, da Trilogia do Antes a Boyhood: Da Infância à Juventude.
Nesse contexto, Blue Moon é mais que mera referência musical: é o reflexo da própria trajetória de Lorenz Hart. Ele é um artista que brilhou intensamente — um lampejo de genialidade e sensibilidade em um mundo que o esqueceu depressa demais. A canção simboliza tanto o auge quanto a ruína, funcionando como espelho de um homem que escreveu versos eternos sobre o amor, mas morreu incapaz de vivê-lo plenamente. Linklater transforma esse título em epitáfio poético: assim como a “lua azul” ilumina brevemente o céu antes de desaparecer, Blue Moon acende por um instante a vida de Hart, apenas para devolvê-lo à escuridão da própria memória.
Após revisitar a energia rebelde da juventude e a reinvenção do olhar em Nouvelle Vague, Richard Linklater contempla agora o outro extremo da vida: a exaustão, o rescaldo, o que sobra quando não há mais aplausos da plateia. Se o filme sobre os bastidores de Acossado celebrava o nascimento de um novo olhar para a arte, Blue Moon observa o crepúsculo de um artista que já não encanta ninguém, nem a si próprio. Essa conversa de bar é o último brinde antes do desfecho anunciado logo na primeira cena. Linklater, mais uma vez, captura a melancólica e irrefutável beleza do tempo — esse mesmo tempo que nos destrói e, paradoxalmente, nos define.