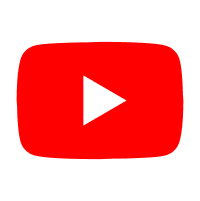Erik Jennings: Conheça o médico que cuida dos indígenas em meio à pandemia de covid-19
Aventuras Na História

O trabalho do neurologista Erick Jennings — homenageado do prêmio 'Descobertas do Ano', do Aventuras na História — com as comunidades indígenas começou ainda em sua graduação, quando ele teve conhecimento sobre a incidência da Hepatite B no povo Parakanã, que vive no Pará.
Tempos depois, no início dos anos 2000, Jennings se voluntariou para atender a um chamado de uma indígena Zo’é, que havia sofrido um acidente no crânio após cair de uma árvore. Ali nascia sua longa e duradoura relação como a comunidade no noroeste do Pará.
“Quando conheci o Erik, ele já trabalhava junto ao povo Zo’é. Eu sempre soube da forma dedicada que ele conduzia o seu trabalho, seja na cidade dentro dos hospitais ou em áreas afastadas dentro das aldeias indígenas ou comunidades”, diz sua esposa, Cris Figarella Jennings, em entrevista exclusiva à equipe do site do Aventuras na História.
“Quando nos casamos, em 2010, eu conhecia muito pouco sobre os povos indígenas e, de forma natural, fui aprendendo com ele a importância desta causa, em reconhecer o saber ancestral que vem da floresta e me tornar uma aliada na preservação dessa biodiversidade que abriga tantos povos. Da mesma forma, nossos filhos também foram assimilando esse conhecimento”, completa.
Atualmente, a população Zo’é está estimada em cerca de 320 indivíduos, que ocupam 18 aldeias na região entre os rios Cuminapanema e Erepecuru. Como explica matéria do Povos Indígenas no Brasil (PIB), a comunidade só passou a conviver com agentes de assistência há apenas três décadas, mas ainda assim mantendo suas formas de organização social e territorial.
“Claro que a dedicação do Erik implica em ausência, mas acredito que eu e nossos filhos também temos uma vocação para sermos a família dele, e lidamos bem com os momentos em que ele não pode estar presente”, diz Cris.
A pandemia, um dos momentos mais críticos
Os indígenas foram muito afetados pela pandemia do novo coronavírus em diversos aspectos. “No cultural, o principal deles [dos impactos] é a perda das pessoas mais idosas que são a grande fonte de conhecimento desses povos”, declarou o neurocirurgião em entrevista à GQ.

Cris recorda, inclusive, que no início dos casos por aqui, Jennings passou por um de seus momentos mais difíceis em seu trabalho. “Durante os primeiros 4 meses de pandemia, era o único a sair de casa, quando retornava, tomava banho do lado de fora, na garagem, e só então entrava em casa. Teve o rosto ferido pelo uso das máscaras, passou a fazer com frequência os exames de PCR que detectam o vírus”.
Grande parte disso, explica, se deu pela falta de conhecimento que o mundo ainda tinha sobre o vírus. Mesmo assim, o neurocirurgião continuou sua função, embora nutrisse a preocupação de que pudesse trazer o vírus para casa e colocar em risco sua família.
“Ainda em 2020, Erik precisou de ausentar algumas vezes. Foi chamado pela Sesai para instalar, em outras 3 tribos indígenas (Assurinis, Suruis, e Xikrim do Cateté), unidades de tratamento intermediário (UAPI) para atender e dar suporte aos pacientes de covid mais graves. Naquelas tribos, o vírus já estava disseminado, inclusive com vários óbitos”.
“Lembro quando ele teve que contar ao povo sobre a magnitude da epidemia, e como ele se impressionou com a reação dos indígenas. De forma muito inteligente, eles adotaram suas próprias medidas para evitar a doença, como não compartilhar os mesmos caminhos dentro das florestas e estar em contato apenas com o seu núcleo familiar”, completa.
A medicina como forma de transformação
Se hoje o centro de saúde onde Jennings trabalha já se tornou referência, inclusive sendo usado de modelo para propor uma forma institucional, embora haja um certo obstáculo da política da saúde indígena para incorporá-lo, conforme explica Figarella, as coisas nem sempre foram assim.
“A estrutura do centro de saúde em área foi criada por meio de doações e parcerias que ele precisou buscar no início do serviço. Felizmente, essa dificuldade foi superada”, conta. “Hoje, este modelo de levar saúde aos indígenas ao invés de trazê-los para os grandes centros, está sendo discutido para ter sua replicação em outras áreas”.

Mas, fato que continua sendo um grande desafio é chegar até o território dos Zo’é. “É arriscado. Só é possível chegar até lá em avião pequeno. Muitas vezes não é possível retornar no mesmo dia devido ao mau tempo”.
O grande ponto do trabalho de Erik, explica Cris, foi como ele ajudou a consolidar um modelo diferenciado de atendimento à saúde indígena, baseado no respeito a cultura, com grande parte da resolução dentro do próprio território, para isso, adotou princípios que trazem o meio ambiente como promotor de saúde.
“O conceito de doença e de recuperação de sua saúde é diferente da nossa, precisamos saber disso para poder oferecer assistência baseada nas diferenças de concepção. Por exemplo, a doença pode ser causada por um espírito da floresta, e sua recuperação pode levar em conta a abdicação de algum alimento. Nesse sentido, precisa haver um diálogo entre os agentes de saúde e os saberes e cosmologia da floresta”, explica.
Os ensinamentos da floresta e dos nativos
Todos esses anos ao lado de Erik fizeram com que Figarella passasse a ter uma visão diferente do mundo, além de diversos ensinamentos sobre a vida. O principal, em sua opinião, é de que nós não somos superiores às florestas, muito pelo contrário, somos apenas parte dela.
“Colocá-la em risco é colocar a nossa própria existência em cheque, por isso a pauta da preservação está no nosso dia, nos ajudando a repensar e moldar hábitos que levem em consideração um menor desperdício e impacto. Os Zo’és ensinam que tudo da floresta tem espírito , o rio, a árvore, a pedra, os animais e por isso devem ser respeitados”.
Em raras ocasiões, antes da pandemia, recorda, quando existia a necessidade de retirar algum indígena do território para vir fazer algum tratamento mais complexo na cidade, a casa dos Jennings chegou a servir de apoio e de abrigo para os nativos, experiência a qual ela considera especial pelo fato de sua família ter a oportunidade de viver com realidades distintas.
“Era encantador ver a interação entre eles [os indígenas e seus filhos]. A troca que existia, mesmo apenas no compartilhar histórias será sempre um marco para que possamos reafirmar que a nossa forma de existir não é superior e que fonte de conhecimento não provem apenas do branco”, diz.
Questionada se o trabalho mudou mais a vida de sua família ou se seu marido foi responsável por mais transformações em outras pessoas, ela diz acreditar que a ocupação de Erik é uma via de mão dupla.
“Eu presenciei tantas histórias de pessoas impactadas pela atuação dele como médico e ser humano que não posso deixar de levar em conta. São pacientes, familiares, amigos, que são transformados não apenas pelo talento dele como neurocirurgião, mas sobretudo pela sua sensibilidade no reconhecimento de outras formas de viver, que traz à tona essas reflexões tão importantes sobre nossa existência e atuação na sociedade”, conclui.