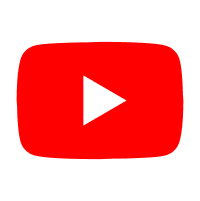Prisões e perseguição: Há 50 anos, o aborto era legalizado nos EUA
Aventuras Na História

“Estou apavorada”; “Tenho medo da dor”; “Meu namorado me deixou”; “Fui estuprada”; “Não sou casada”; “Já tenho dois filhos”; “Estou desempregada”; “Sou adolescente”; “Preciso terminar a faculdade”; “Meu marido não pode saber”; “Não quero um filho agora”.
As mais variadas justificativas levavam mulheres de todos os perfis até Jane, pois assim conseguiriam interromper a gravidez indesejada em segurança. Mas Jane não estava interessada nas motivações delas. Muito menos em julgá-las por esta escolha. O objetivo era tão somente ajudá-las.
“Grávida? Não quer ser? Ligue para Jane no 643-3844.” No final dos anos 1960, o anúncio se espalhava em quadros de avisos comunitários e em jornais alternativos da cidade de Chicago, epicentro das manifestações por direitos civis nos Estados Unidos.
Só que, ao contrário do que parecia, Jane não era uma pessoa, e sim um grupo de mulheres que garantia abortos seguros e de baixo custo antes de a prática ser legalizada naquele país, o que veio a acontecer em 1973, após o famoso julgamento “Roe vs. Wade”. Mas, até essa data, milhares de mulheres do país, assim como em outras nações pelo mundo, sofriam complicações severas ou morriam por causa de abortos clandestinos malsucedidos.
As que tentavam resolver a questão por si mesmas, em geral, utilizavam algum objeto pontiagudo e acabavam perfurando não só o útero como também a bexiga e o intestino; ou então, se arremessavam de escadarias. Outras usavam meios químicos, principalmente o ácido carbólico, um composto orgânico provocador de queimaduras horrendas. Havia ainda a opção de se recorrer a terceiros.
Em Chicago, uma máfia especializada conduzida por homens cobrava de US$ 500 a US$ 1.000 pelo procedimento. Se uma mulher optasse por essa via, poderia eventualmente se sujeitar à seguinte situação: marcar por telefone o encontro com o “profissional” num motel afastado do centro da cidade, ser friamente conduzida à cama, sem claras explicações do que seria feito com seu corpo, viver minutos de intensa agonia e ser deixada ali, sozinha, sangrando por horas.
Até recobrar as forças, se erguer e conseguir pedir socorro a alguém. Somente as endinheiradas conseguiam realizar abortos legais e seguros no estrangeiro, em países como Reino Unido e Suécia. De maneira que as negras, social e economicamente vulneráveis, eram ainda mais prejudicadas pelo sistema.
Essa é apenas uma das muitas histórias verídicas reunidas no documentário ‘Janes: Mulheres Anônimas’ (HBO, 2022), de Tia Lessin e Emma Pildes, e narradas por suas protagonistas, hoje senhoras orgulhosas do apoio que puderam oferecer a milhares de mulheres em perigo. Para se ter ideia, entre 1968 e 1973, o coletivo realizou 11 mil abortos ilegais.
Sim, elas eram infratoras da lei. Portanto, se fossem pegas, seriam julgadas e condenadas como criminosas. Aliás, naquele tempo, a mera menção ao intento de se fazer um aborto era considerada uma conspiração para o crime, com risco de prisão.
Mas as Janes estavam dispostas a cruzar essa fronteira, mesmo cientes da existência do Esquadrão Vermelho, divisão da polícia de Chicago que monitorava os ativistas de direitos civis e mudanças sociais. “Às vezes há leis injustas e, diante de uma lei injusta, você precisa agir para contestá-la”, defende a ativista Heather Booth.
Rede confiável e acolhedora
Enquanto dentro dos consultórios ginecológicos apenas mulheres casadas podiam obter receita médica para comprar anticoncepcional, nas ruas de Chicago milhares bradavam pelos direitos femininos. Sob tal atmosfera floresceu, por exemplo, a União para Libertação das Mulheres de Chicago.
Pragmáticas, as Janes levaram a luta para a ação. Eram jovens ativistas, algumas estudantes, outras casadas e com filhos, a maioria pertencente à classe média branca alinhada ao propósito de combater injustiças, especialmente, a iniquidade de gênero e a supressão da liberdade feminina sobre seus corpos e anseios reprodutivos.
Heather Booth estudava na Universidade de Chicago, em 1965, quando um amigo lhe contou que a irmã havia engravidado e estava pensando em se matar. A pedido dele, ela foi atrás de um médico que pudesse oferecer algum tipo de ajuda. “Falei com médicos que estavam no Movimento dos Direitos Civis e fui indicada ao dr. T.R.M.Howard, que aceitou o caso”, conta Heather.
Pouco depois, outra jovem desesperada a procurou e a mesma ponte com o dr. Howard fora providenciada. Rapidamente a notícia se espalhou e solicitações não paravam de chegar. Anos depois, Heather perdeu o contato com o dr. Howard e veio a saber que ele tinha sido preso. Recomeçava a busca por um médico que topasse a empreitada. E surgiu uma indicação: Mike.
Um homem habilidoso, gentil e brincalhão, com quem as mulheres se sentiam reconfortadas. Só que, quando chegou 1968, a estudante estava sobrecarregada e, para atender novas demandas, precisava formar uma equipe que não só oferecesse apoio logístico como também disponibilizasse suas casas para as intervenções.
Ao final das reuniões políticas que frequentava na época, ela passou a convidar outras participantes. A maioria disse sim. Eleanor Oliver ofereceu sua linha telefônica para centralizar os recados que deveriam ser deixados pelas pacientes na secretária eletrônica. Para proteger o nome da proprietária, optou-se pelo codinome Jane.
Em pouco tempo, o coletivo já tinha 30 mulheres envolvidas na organização. Assim que pegavam os recados, elas retornavam, obtinham um histórico médico básico da solicitante, anotavam os detalhes da gravidez e designavam cada mulher a uma conselheira do grupo. Esta explicaria o restante do processo, responderia a quaisquer perguntas remanescentes e agendaria o procedimento.
Na hora marcada, as pacientes se dirigiam à “Fachada”, uma residência que servia como recepção. Ali as mulheres encontravam um ambiente amigável e acolhedor. Entre chás e refrescos, eram informadas sobre o funcionamento de toda a logística, quais instrumentos seriam usados e o que elas poderiam esperar em seguida.
Dali, eram transportadas de carro, em pequenos grupos, ao “Lugar”, endereços variados onde os abortos eram feitos. Encerradas as intervenções, eram levadas de volta à “Fachada”, onde recebiam analgésicos para levar para casa. Após cada procedimento, as Janes encaminhavam as pacientes a um ginecologista local para um exame de verificação.
Nos dias subsequentes, as respectivas conselheiras ligavam para checar se não houve complicações. Caso algo ruim ocorresse, elas insistiam para que a mulher se dirigisse com urgência para um hospital. As pacientes pagavam o que podiam para o coletivo cobrir os custos básicos, com a consciência de que esse recurso ajudaria aquelas com menos condições financeiras.
A engrenagem girava sem maiores intercorrências. Até o inesperado desarranjar o que fluía tão bem. Por volta de 1970, as ativistas descobriram que Mike não era médico, apenas alguém que tinha aprendido a técnica na posição de assistente. Tiveram que dispensá-lo, mas não sem antes assimilarem o que ele sabia.
“Se ele pode fazer isso, então nós também podemos”, raciocinaram. Assim, os membros do coletivo passaram a realizar abortos por conta própria, atingindo a marca de 30 procedimentos por dia, três vezes por semana.
Onde está o médico?
Em 3 de maio de 1972, um golpe traiçoeiro atingiu o grupo. Aparentando um misto de revolta e aflição, duas mulheres adentraram a delegacia movidas por um dever moral: a cunhada delas faria um aborto, além de ilegal, um ato, segundo elas, pecaminoso, que precisava ser impedido. Então, três policiais da divisão de homicídios seguiram a tal cunhada e, posteriormente, perseguiram o carro de uma Jane até o “Lugar”.
No apartamento, crianças brincavam na sala enquanto um porco ardia no forno. Assim que os oficiais invadiram o recinto, perguntaram: “Onde está o médico?”. Logo os policiais perceberam que não havia nenhum e que tampouco as mulheres do coletivo eram enfermeiras.
Naquele momento, sete foram presas em flagrante. Mas, num gesto instintivo, conseguiram eliminar as fichas que identificavam as pacientes mastigando e engolindo os cartões. O resultado da operação estampou os jornais, sacudindo Chicago. Mesmo assim, grávidas em desespero continuavam procurando as Janes.
Então, elas tiveram que alterar o esquema a fim de despistar a vigilância. Dali por diante, passaram a reunir cinco mulheres numa esquina, de onde seguiam para a casa de uma das integrantes. Nesse endereço, as pacientes recebiam o aconselhamento e, em seguida, passavam pelo procedimento.
Sob 11 acusações de aborto e conspiração para cometer aborto, as ativistas enfrentaram a Justiça. Para defendê-las no julgamento, contrataram Jo-Anne Wolfson, advogada sem papas na língua que já havia defendido os Panteras Negras, partido político em defesa da comunidade afro-americana.
Com astúcia, ela foi protocolando recursos atrás de recursos, o que fez o processo se estender. Assim as Janes ganharam tempo. Porém, quando o veredicto saísse, elas poderiam pegar de um a dez anos de prisão por cada uma das acusações. Felizmente, o calendário alcançou o dia 22 de janeiro de 1973.
Nessa data histórica, a Suprema Corte dos Estados Unidos legalizou o aborto até a 24ª semana de gestação por considerar que esta é uma decisão da mulher e do seu médico, não do Governo. Com isso, automaticamente as leis contra o aborto se tornaram inconstitucionais em 46 estados do país e as acusações contra as Janes foram retiradas.
Milhares de mulheres por toda a América puderam sentir um alívio inimaginável. “Nós éramos mulheres comuns tentando salvar vidas de outras mulheres. Queríamos que elas fossem as heroínas de suas histórias. Queríamos compartilhar essa noção de poder pessoal com aquelas que não deveriam sentir muito essa força em sua vida”, sintetiza Laura Kaplan, autora de ‘The Story of Jane’.
As Janes encerraram o coletivo depois que o aborto ganhou a luz da legalidade. E seguiram com suas buscas pessoais, profissionais e políticas. Foram artistas, professoras, funcionárias públicas, líderes comunitárias, profissionais da saúde, escritoras e mães